não há nada mais patético, para um homem de cinquenta anos, do que bater uma punheta. talvez apenas se esse homem for casado. quando um homem decide se casar, ele faz um pacto consigo de que não precisará recorrer à autoinduções para obter prazer; é o encerramento dos vícios da adolescência. o casamento é a complicação do gozo, pois se confere à execução de dois o que pode ser bem-feito solitariamente. a questão é que não é um ato compulsório. eis a minha sugestão, portanto: durante a cerimônia, quando o padre discorre sobre as obrigações do matrimônio, o impedimento da punheta deveria estar entre o ser eternamente fiel e o altruísmo. não há nada mais leal. a permissão do sexo é a peculiaridade do casamento. é o que o distingue do namoro e do noivado, com seus estranhamentos e negociações. na verdade, é tão óbvio que sequer está no contrato nupcial. o grande problema é que, só algum tempo depois de assinado, é que se descobre que é um contrato extinto. desculpe-me as comparações medonhas, mas sou um advogado com um pau flácido na palma da mão.
estar casado há vinte e oito anos é um exercício do qual se lembra, mas não o corpo não consegue se entender com a vontade. e isso não é mau. a vida passa a ser mais prosaica, encadeada por tarefas reprisadas, sem a obrigação de conceder ao outro as suas escolhas. a desistência entre duas pessoas é um dos atos mais saudáveis. o terrível é o sexo. tentar competir a necessidade de ejacular contra a falta de inspiração. com o tempo, o sexo deixa de ser um acordo, para ir se tornando um jogo que requer a disposição do oponente, até a anuência atingir o valor de algo exótico, inusitado, uma viagem planejada durante muito tempo para o lugar mais próximo do mundo. às vezes, acontece de se chegar lá. o triste é descobrir que, a cada incursão, nada é o mesmo, que o cenário vai sendo falido por um tipo de fenômeno polar.
então estou sentado na ponta do vaso, com o pau na mão, cogitando tocar uma punheta. é quase meia-noite e, depois de circular o dia inteiro por cartórios e fóruns, não me resta energia para fantasias de alto de nível. espremo o pau, pensando na minha esposa. não o casca que restou, e sim a mulher de outrora: fogosa, que fazia um espetacular boquete e valorizava as preliminares. estou forçando a mente faz alguns minutos, e parece não está dando resultado. eu poderia trazer escondido uma revistinha, mas, se já não me motiva a punheta, estou velho demais para agir clandestinamente. apago tudo. desocupo a mão, a enfio debaixo da bunda e espero até não sentir mais o fluxo do sangue. com os dedos dormentes, volto a envolver o pau e começo a perseguir uma série de mulheres que gostaria de estar comendo agora. tento a rua, a padaria onde tomo café, mas acabo no escritório. alguma advogada, as recepcionistas, a copeira não, porra… a estagiária, sim a estagiária! vinte aninhos, pernas lisas trabalhadas em halteres, a pele dourada em sessões praianas. bunda durinha, seios fartos moldados no tecido fino da blusa social, acusando o frio do ar-condicionado. foda-se, se ela é filha do Humberto! penso na estagiária e começa a funcionar.
esgano a cabeça do pau, me valendo do restante da sensação de dormência, e fricciono pele contra pele, para cima e para baixo. isso, minha filha, senta aqui ao meu lado, que quero lhe mostrar uma coisa, vai, pega! isso, para cima e para baixo. as mãos pequenas e amáveis da estagiária fazem com que, tão logo, ela tenha um dínamo entre os dedos, um vulcão prestes a irromper. estou tão duro, que o pau empina além da circunferência da barriga. continuo. a cena se desenvolve numa ordem aleatória de idas e vindas na minha cabeça. quando parece estar no fim, os fatos voltam para um momento que não existia. fecho os olhos, já não existe o banheiro. sinto os espasmos, a quentura na pélvis. sinto o fluxo e me inclino para ampará-lo com uma tira de papel higiênico, quando um ferrão incandescente me penetra no meio das costas, travando o corpo. feito um manequim desabo no chão, incapaz de me erguer. torto, espero o pau murchar e grito socorro.
escoliose, aponta para as folhas de raio-X presas num painel luminoso. estamos separados por uma mesa de carvalho, grande no peso e na idade. sobre o tampo, a miniatura de uma coluna espinhal traz o logotipo de um laboratório farmacêutico na base. as paredes estão enfeitadas com imagens emolduras de vértebras e diplomas desenhados por letras cursivas douradas. do outro lado, o ortopedista. um sujeito baixo e acima do peso, cavanhaque bem cuidado e cheiro de alfazema. você nunca sentiu dores antes? Continuar lendo













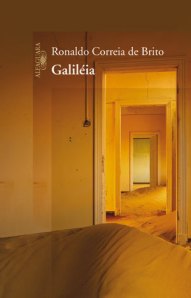



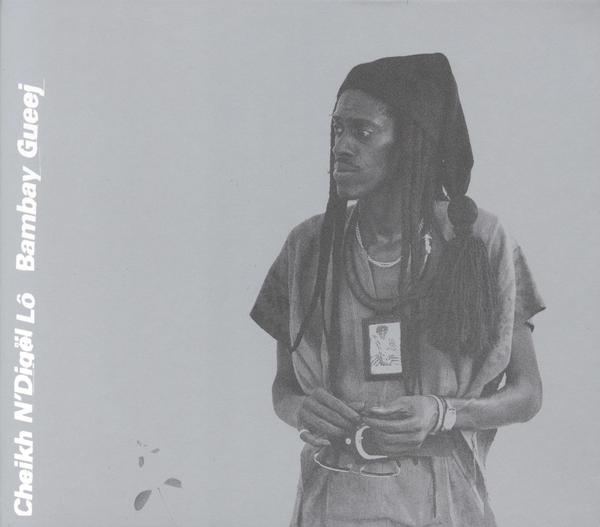

 *Prisca Agustoni nasceu em Lugano, na Suíça italiana, onde cresceu. Morou em Genebra por muitos anos, para cursar a Faculdade de Letras e Filosofia. Na cidade de Calvino fez teatro, se abriu para o mundo, publicou seus primeiros textos e fincou raízes. Outras raizes ela transplantou para o Brasil, em Juiz de Fora, onde mora desde 2002. Aqui ela trabalha como tradutora, além de se dedicar à escrita poética e narrativa.
*Prisca Agustoni nasceu em Lugano, na Suíça italiana, onde cresceu. Morou em Genebra por muitos anos, para cursar a Faculdade de Letras e Filosofia. Na cidade de Calvino fez teatro, se abriu para o mundo, publicou seus primeiros textos e fincou raízes. Outras raizes ela transplantou para o Brasil, em Juiz de Fora, onde mora desde 2002. Aqui ela trabalha como tradutora, além de se dedicar à escrita poética e narrativa.











