
Há muita gente que ainda acredita que os livros físicos têm o potencial de deixar de existir, pelo advento da internet e da cultura digital. Possivelmente entram na mesma linha daqueles que acreditavam no fim do cinema com o surgimento da televisão. Entretanto, o que temos observado hoje é um aumento considerável no número de publicações impressas no Brasil, colocadas no mercado (ou em algum lugar próximo a isso) por pequenas editoras que vêm se destacando no cenário nacional, possivelmente pelas novas possibilidades de edição que existem justamente pelos novos meios técnicos, digitais, como as impressões sob demanda. Este é um cenário fácil de ser observado se notarmos, por exemplo, o número de editoras que concorreram na categoria “Poesia” no último Prêmio Oceanos (antigo Portugal Telecom), que quase se esbarra no número de obras inscritas para tal categoria. Os dados apontam para uma discussão que não é nova, mas que ainda faz sentido ser citada: o número de publicações vem se tornando maior que o número de leitores. Claro que ainda existem leitores, e alguns deles (como eu) busca ter acesso ao maior número possível de livros que são publicados, o que pode resultar num enorme estoque de obras, que são diversas mas, na maioria das vezes, possuem o mesmo tom de qualidade questionável – o que é bem óbvio, já que a demanda aumenta e o tempo para preocupações estéticas, formais e comprometimento com o intelecto do leitor, consequentemente, tende a diminuir. Liubliblablá: mastigações de um camelo, de André Monteiro e Luiz Fernando Medeiros (Bartlebee, 2015) é um livro que, de certo modo, destoa e se destaca neste cenário das publicações por editoras independentes.
Apresentado, na ficha catalográfica, como “Ensaio brasileiro”, o livro não se prende (e não se pretende a isso) a uma classificação fixa, principalmente se pensarmos que André e Luiz Fernando já são conhecidos pelas suas carreiras como poetas, o que nos leva a encontrar um lirismo pulsante (às vezes em versos, por vezes em prosa) perpassando por toda essa obra que se autointitula ensaística:
o camelo aqui mastiga e fala. fala e mastiga.
não mais suporta. não mais se ajoelha.
O camelo aqui vem da imagem das três metamorfoses do espírito, apresentada por Nietzsche em Assim falou Zaratustra: “Vou dizer-vos as três metamorfoses do espírito: como o espírito se muda em camelo, e o camelo em leão, e o leão, finalmente, em criança”. Elemento central do livro, o animal equivaleria à ideia de sua corcunda, como se a corcunda fosse um carregamento de todas as informações e imposições pautadas pela cultura ocidental. Como a figura de um academicista, preso em seu gabinete, cercado de livros, cuja exclusiva ação é carregar o máximo possível das informações dos livros, criando sobre ele uma bagagem monstruosa, uma corcunda enorme e nada digerida. O que os autores apresentam, no entanto, é uma imagem modificada do animal nietzschiano: o camelo aqui mastiga e fala. Enquanto mastiga é também o leão, que critica, que devora, com sua arcada selvagem, o que designa a cultura:
lei de mercado
na maioria dos casos, terminamos
como velhos frustrados franciscanos
querendo dar e receber,
pelo mais, não damos.
pelo menos, recebemos.
um dia, nos daremos para o gasto.
É também a criança, que se desliga (depois de tudo digerido) e começa de novo, do zero, da nova organização possível agora pela visão crítica e pela falta de repressão. Vem justamente daí o título do livro: liubliblablá, quase um balbucio, uma palavra que por enquanto não se enquadra em nenhum sistema simbólico e representativo, como se uma tentativa da criança de entrar no reino político da linguagem, mas desviando-se para o novo, o que brilha. Liubliblablá, gugu-dadá, Dadá.
a baba será tudo no amor
liublablá
liubliblablá
Mastigar pode ser, antes de tudo, tecer – trançar a tecitura, criar o tecido, o texto. O camelo mastiga o texto, isto que Roland Barthes aponta em “A morte do autor” como “um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam escrituras variadas, das quais nenhuma é original: o texto é um tecido de citações, saídas dos mil focos da cultura”. No livro ajuntam-se, mastiga-se e coabitam presenças como as de Clementina de Jesus, Ismael Silva, Oswald de Andrade e Henry Miller que, antes de ajudarem no crescimento da corcunda do camelo, são devorados pelo leão até chegar nesse lugar onde nada é de um possuidor, onde a autoridade se dissolve e resiste a rede variada de influências.
O próprio sentido de autoria do livro é abalado quando os dois poetas decidem assinar juntos todos os textos. O que traz o livro não são escrituras de André Monteiro, ou escrituras de Luiz Fernando Medeiros, mas uma estrutura em que se encontram as duas, juntas de todas as demais que cruzam o caminho do camelo (do leão, da criança, de seus etecéteras). Evitar este ponto de encontro seria, de acordo com certa passagem do livro, “rechaçar toda a possibilidade de conversa infinita do casal humano, a conversa infinita de dois seres que se atraem pelo afeto”. E é o afeto justamente o elemento que possibilita a união e coexistência de todas as vidas que brotam de Liubliblablá.
(…) o capitalismo não deixa, a moral não deixa. há que estar nos conformes. o corpo conformado a uma só gestão. mastigar e gestar o bolo da cultura. ejetar o que se tornou conforme.
Elemento subversivo, revolucionário, o afeto abala as estruturas do capitalismo e da moral. Não há estrutura social capaz de suportar a violência do encontro não delimitado pelas regras do corpo dócil, por isso o sistema constantemente tenta nos impedir do que pede o desejo. Para isso, então, caminha o leão: mastigando a massa ditada, quebrando as imposições, até que possamos chegar ao espaço livre da linguagem da criança. Nos aponta o livro que devemos quebrar sempre as estruturas, mas com ódio não se quebra nada. O amor, pela sua potência, o amor, pela sua força dos encontros positivos, é o que quebra.
quebrar não é suicidar a coisa
e esperar sua não coisa
quebrar é arranjar nas quebradas
a requebrada música de uma oferenda
não se quebra qualquer coisa de qualquer jeito
quebrar é dar um jeito
de arrancar da coisa mesma
sua coisa outra
como o mar
que se quebra na praia
como o amor
que quebra tudo
e nos multiplica ao infinito
(com ódio não se quebra nada
o ódio endurece corações
endireita músculos
e os torna inquebrantáveis)
haverá amor
que não seja amor
em pedaços?
Entre tantas publicações que nos chegam hoje em dia, e que podem também se acumular como uma grande corcunda, Liubliblablá brilha pela honestidade com que trata os discursos e como constrói o seu próprio; e também por se colocar neste terreno que não busca pra si um certificado último de raiz original, mas que brinca com a linguagem, com a vida e todos os seus desdobramentos e potências.
Planejava neste texto, ainda, uma última nota sobre o livro funcionar como um pequeno manual afetivo de como viver num mundo cada vez mais abarrotado de informações, que nos chegam de todos os lados o tempo todo, mas talvez a melhor escolha seja terminar assoviando Godard:
“somos treinados por meio de filmes norte-americanos a pensar que temos de compreender tudo de imediato. mas isso não é possível. quando você come uma batata, você não entende cada átomo da batata.”
X

Liubliblablá: mastigações de um camelo
André Monteiro e Luiz Fernando Medeiros
Bartlebee
60 páginas


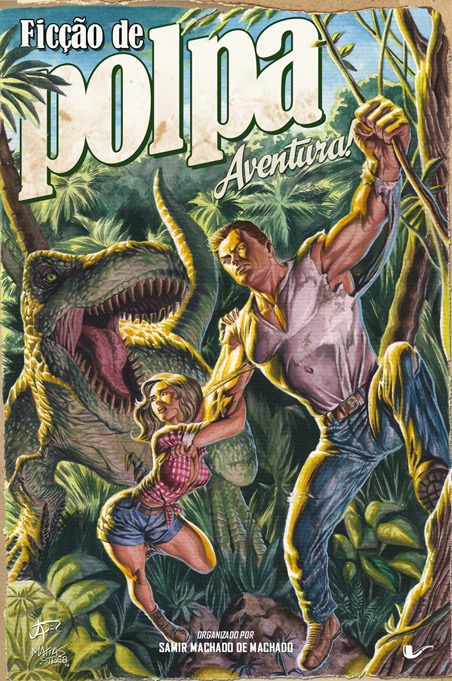






 Ultimamente, ando mesmo julgando o livro pela capa (concordando totalmente com o que a Larissa Andrioli já disse
Ultimamente, ando mesmo julgando o livro pela capa (concordando totalmente com o que a Larissa Andrioli já disse 
 Pela tradição judaico-cristã Eva é o nome da primeira mulher que, ao provar do fruto proibido é expulsa do paraíso. Eva Khatchadourian, sem dúvida, não se difere muito da homônima descrita na Bíblica e no Alcorão, pois ao conceber seu fruto, no caso, o filho, sua vida se torna um verdadeiro inferno. Sim, estamos falando sobre a personagem principal do romance de Lionel Shriver, Precisamos falar sobre o Kevin.
Pela tradição judaico-cristã Eva é o nome da primeira mulher que, ao provar do fruto proibido é expulsa do paraíso. Eva Khatchadourian, sem dúvida, não se difere muito da homônima descrita na Bíblica e no Alcorão, pois ao conceber seu fruto, no caso, o filho, sua vida se torna um verdadeiro inferno. Sim, estamos falando sobre a personagem principal do romance de Lionel Shriver, Precisamos falar sobre o Kevin.



